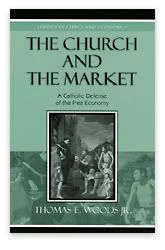Reproduzo um dos textos mais incríveis que li do Olavo de Carvalho sobre o problema da moral e Deus. Trata-se de uma consistente análise e esplêndida refutação da ideia iluminista (mais viva do que nunca) de que é possível uma moral sem Deus. Olavo também examina os fundamentos do relativismo moral e mostra seus incontornáveis equívocos. Esse sensacional artigo foi publicado no livro Fronteiras da Tradição, de 1986. Aliás, se alguém souber como obter o livro, por gentileza, me avise.
O texto é extenso para um blog, mas seu conteúdo torna-o simplesmente obrigatório. Por isso, sugiro que o leitor imprima-o para apreendê-lo da forma que o texto merece.
LM.

Até uns séculos atrás, o ateísmo era considerado uma simples imoralidade. "Libertinismo" era um dos seus sinônimos. Hoje, fala-se de uma "moralidade leiga" ou mesmo de uma "moral agnóstica", como coisa evidente por si mesma e que não necessita especial justificação.
Nesse contexto, supõe-se que todas as questões morais estão na dependência exclusiva de certos "princípios" mais ou menos convencionais aceitos pela coletividade, e que portanto podem ser resolvidos segundo critérios unicamente humanos, sem nenhum recurso a uma instância "divina".
Os mesmos "princípios", acredita-se, podem ser aceitos tanto pelos ateus quanto pelos crentes. Crer ou não crer em Deus passa a ser uma questão subjetiva, a ser decidida no foro íntimo de cada um, longe das discussões objetivas sobre a moralidade social, sobre as quais ela não deve exercer nenhuma interferência relevante.
Em suma, a moralidade passou da alçada religiosa para a esfera puramente jurídica, educacional ou política, e todo apelo à idéia de Deus, torna-se no caso, uma intromissão indesejável de considerações "metafísicas" - no sentido corrente e pejorativo da palavra, isto é, de algo absolutamente inverificável e hipotético - no contexto de uma discussão que bem poderia ser resolvida inteiramente por meios "racionais", isto é, mediante o apelo, por exemplo, ao interesse coletivo, aos sentimentos humanos corriqueiros, ou a qualquer outro critério puramente humano.
Se o crente, apesar disso, insiste em imiscuir Deus na moralidade, admite-se cortesmente que o faça, e admite-se isso em nome de um princípio de "tolerância", que, por sua vez, também não é o divino, mas humano, o que resulta em afirmar implicitamente que o homem é melhor para Deus do que Deus para o homem.
Embora irremediavelmente viciosa, essa postura está tão disseminada hoje em dia, que mesmo os sacerdotes dos vários cultos (para não dizer a massa dos fiéis comuns) aceitam discutir nesses termos, como se vê em congressos filosóficos e educacionais onde o ponto de vista "católico" ou "judaico" é apresentado em pé de igualdade com outros tantos pontos de vista puramente humanos e contingentes, como se o catolicismo ou o judaísmo fossem simples escolas filosóficas mais ou menos recentes e improvisadas como o marxismo, o behaviourismo, a psicanálise, etc. Como se pudesse haver uma medida comum entre as religiões reveladas e as opiniões individuais.
Quando consideramos que os códigos morais da civilização ocidental derivam todos de alguma fonte religiosa ou espiritual - seja pelo cristianismo, seja pela influência judaica, helênica ou muçulmana, seja pelo Direito Romano, que por seu lado também não era de origem "puramente humana" mas estava ligado a todo um complexo mítico e ritual - podemos nos perguntar como foi possível, em menos de três séculos, uma alteração tão profunda.
Associa-se geralmente esse fenômeno à disseminação, a partir da Renascença e sobretudo depois do século XVIII, de vários tipos de ateísmo "científicos", como o evolucionismo, o pragmatismo, o positivismo, em suma, ao que se denomina o "advento da modernidade".
Essa explicação é mais ou menos correta, mas com duas ressalvas. Primeira que o processo não se inicia na Renascença, mas remonta ao século XIII, quando fatos de natureza puramente política e interna da Igreja desencadearam a destruição da imagem cristã-medieval do cosmos, muito antes dos descobrimentos científicos aos quais se atribui erroneamente essa destruição. Tais fatos são demasiado complexos para explicar aqui, mas já me referi mais extensamente a eles num livreto publicado algum tempo atrás, sendo desnecessário repeti-los aqui. Basta dizer que eles levam à conclusão de que está inteiramente errada a concepção popular segundo a qual foi o "progresso científico" que destruiu a primazia da concepção cristã na cultura ocidental.
Em segundo lugar, se a disseminação do ateísmo foi a causa genérica da ascensão da moralidade agnóstica, destaca-se, entre as manifestações do ateísmo, uma especificamente, que por sua força de convicção pode ser considerada a determinante da atitude moral contemporânea, ou pelo menos sua mais relevante justificação.
Trata-se da divulgação pelos antropólogos e etnólogos, da diversidade de códigos morais nas várias culturas. Os antropólogos associam essa diversidade à variação nas instituições políticas e econômicas, nas formas de adaptação do homem ao meio natural, nas estruturas familiares, etc. Isso tende evidentemente a mostrar o caráter adaptativo e secundário da moralidade e, portanto, a abolir toda idéia de uma moralidade absoluta de origem divina.
Os livros clássicos, nesse sentido, são os de Bronislaw Malinowski e Ruth Benedict, entre outros, que se tornaram modelares como padrões da atitude científica ante as demais culturas.
A atitude de "isenção imparcial" do antropólogo exige que ele se limite a descrever as diferenças de padrões morais entre as várias culturas, sem pronunciar-se sobre a superioridade de uns sobre os outros nem sobre a verdade ou erro de cada um em particular. Restaria perguntar se essa "isenção" cria condições para uma objetividade, como parece à primeira vista, ou se ela já não constitui um parti pris que vicia todas as conclusões.
Na realidade, para situar-se imparcialmente ante todos os códigos morais, o cientista deveria ou possuir um outro código, intelectualmente superior a todos eles - que os abrangesse e superasse dialeticamente, constituindo-se como um eixo permanentemente do qual derivassem como variações ocasionais - ou, caso contrário, colocar-se num ponto de vista simplesmente amoral ou indiferente. A primeira hipótese está excluída porque tal alegação de superioridade não seria "científica", e de fato os antropólogos jamais a adotam. Quanto à segunda hipótese, que de fato é a da maioria dos cientistas, não se compreende como uma atitude indiferente poderia levar a outra coisa senão à indiferenciação, ou seja, a encarar todos os códigos morais como igualmente irrelevantes. Em outras palavras, não se vê como a indiferença poderia ajudar a captar, precisamente, diferenças.
Resta ainda uma terceira alternativa, que é a de o cientista colocar-se numa posição ativamente antimoral ou imoral, de modo que a descrição das várias moralidades resultasse em relativisa-las todas de tal modo que, vistas juntas, assumissem o aspecto de uma absurda galeria de erros, esquisitices regionais e preferências arbitrárias. Parece-me que é justamente isso o que acontece em grande número de obras antropológicas, mesmo quando o autor tem uma atitude de simpatia para com a cultura em apreço, pois vai tratar-se então de uma simpatia meramente sentimental, que em nada contribui para a apreensão intelectual da validade universal dos padrões morais dessa cultura. E se não é para descobrir em cada cultura seus valores universais e permanentes, para que estudá-las?
Se a proclamação do relativismo cultural dos códigos morais resultou em abolir toda autoridade moral objetiva, teve ainda o domde transformar o indiferentismo moral - ou imoral - dos antropólogos na única atitude moral aceitável, porque a única "científica".
Com isso, não estou negando o fato da variação dos códigos morais, mas apenas o modo de encará-los e as conclusões que se tiram dele. Porque, se os códigos morais divergem, não é menos verdade que cada um deles se apresenta como verdadeiro, e que esta reivindicação de uma verdade faz parte da natureza mesma dos códigos morais. De modo que, de duas uma : ou estão todos errados - o que implica uma condenação global da inteligência humana, condenação da qual não estaria isento o antropólogo que a proferisse - , ou então a variação mesma deveria ser encarada como uma pluralidade de aspectos da mesma verdade. Cada código moral seria então visto como uma adaptação temporal e contigente de uma mesma Lei supratemporal e, em sua essência, invariável. Ou seja : de uma Lei divina. Isto significa que o estudo da diversidade dos códigos morais teria de ser feito como uma aplicação particular de um conhecimento da "moralidade universal" emanada da philosophia perennis, ou unidade transcendente das religiões (Frtihjof Schuon, De l´unité transcendante des réligions, Paris, Le Seuil, reed. 1978 ou a tradução brasileira, Da unidade transcendente das religiões, São Paulo, Martins, s/d).
Como, porém a hipótese de uma Lei transcendente e imutável está fora da esfera do antropólogo, as variações acabam não sendo referidas a nenhum eixo comum, com o que se acaba caindo num contra-senso lógico que, na terminologia escolástica,seria o da diferença de espécies sem comunidade de gênero. Perdendo-se de vista toda essência permanente do fenômeno "moralidade", o fato mesmo da variação é absolutizado, sendo que o termo "variação" é já por si relativo a um sujeito lógico que varia.
Liquidada a hipótese de uma moral objetiva, fundada no absoluto, a perspectiva que restava era a de um puro acordo entre sentimentos, desejos ou interesses humanos, individuais ou grupais, e é a isto que se reduz o conceito atual de moralidade. Esse conceito, por sua própria natureza, implicará uma nivelação das "preferências" morais, e as divergências eventuais terão de ser decididas, enfim, por um critério simplesmente numérico ou "democrático". Neste sentido, basta que um número considerável de pessoas se decida a defender uma aberração qualquer, para que ela se torne uma preferência moral legítima, com todo o "direito" de ser exercida. Claro que, crescendo o número de reivindicações divergentes, as mais estapafúrdias esquisitices individuais e grupais serão admitidas como formas variantes de "moralidade", e o acordo final terá de se estabelecer em torno de "preceitos mínimos" que possam ser aceitos por todos indiferentemente, isto é, em torno dos sentimento mais vulgares e corriqueiros.
A discussão da moralidade, assim, tende a transformar-se numa simples disputa eleitoral ou de mercado. Nesse panorama, a moralidade "absoluta" do crente passa a ser apenas uma preferência entre outras, sem nenhum direito especial, e a defesa de Deus terá de concorrer, no mercado livre, com a defesa da homossexualidade e do sadismo, do aborto ou do racismo. Nenhuma das igrejas terá nada a reclamar, quando seus adversários as acusarem de estar disputando sua freguesia ou cabalando eleitores.
É evidente que, ao aceitarem a discussão nesses termos - mesmo que seja pelas melhores intenções -, os crentes de todas as religiões reveladas já as colocam numa posição de inferioridade, de modo que, como se diz no refrão popular, com tais amigos, para que a religião precisará de inimigos?
Em toda a discussão moral contemporânea, parece que há um ponto que é sempre passado em branco. Se toda moralidade se pretende verdadeira, então um certo caráter absoluto, ou, se quiserem, absolutista, faz parte da essência mesma da moral, e, neste caso, poderíamos perguntar se uma "moralidade relativa", como se pretende hoje em dia, constitui moralidade de qualquer espécie que seja, ou se não é apenas uma ausência de moralidade.
É importante notar que o que se afirma hoje não é apenas a relatividade deste ou daquele código moral em particular, mas a relatividade da moral. Como ela se apresenta sempre sob formas variadas, conclui-se daí, num sofisma bastante sutil, que essa variabilidade está na essência da moral, e não apenas nas condições contingentes - históricas, sociais, etc. - em que ela se manifesta. A "isenção imparcial" do antropólogo é uma forma de nominalismo moral.
Quanto aos padrões morais particulares, estes sempre foram relativos, como se vê pelo sentido mesmo da palavra mores , "costumes", isto é, algo que por si não afirma validade universal, mas apenas uma conjunção temporária de fatores.
Ocorre que todas as leis morais do passado, relativas em si mesmas, postulavam-se no entanto como originadas no absoluto, ou seja, como expressões ou reflexos temporais, e portanto necessariamente relativos, de uma verdade supratemporal e absoluta.
Nesse sentido, a moralidade, como a inteligência mesma - se me permitem utilizar uma expressão paradoxal de Frithjof Schuon - goza de uma condição "relativamente absoluta", no sentido de uma projeção ou reflexo do absoluto no tempo. E está claro que as variações de um reflexo não indicam a inconstância da fonte de luz, mas da superfície refletante, como sombras projetadas pelo sol numa folhagem batida pelo vento.
As leis morais, relativas porque feitas para homens, são absolutas porque não foram feitas por homens, mas apenas recebidas por estes, e sujeitas aos limites e variações do receptor. Se o conhecimento é, precisamente, a redução da multiplicidade fenomênica à unidade de um princípio, a constatação das variações morais só teria sentido intelectual se conduzisse à constatação de uma unidade principal (termo cunhado por René Guénon , para designar o que se refere ao mundo dos princípios, eternos e imutáveis, por oposição ao mundo da manifestação.) e supra-histórica. Mas isto é exatamente o contrário do que faz a antropologia, a qual dissolvendo a unidade da moral numa variação absolutizada, só pode levar à multiplicidade e à confusão. (As tentativas recentes de alguns antropólogos, nos Encontros de Royaumont, sob a chefia de Edgar Morin e Massimo Piatelli-Plamarini, para reconstituir uma certa "unidade do homem" por baixo da variedade das culturas, além de constituir apenas um tardio reconhecimento do óbvio por parte de quem sempre o negou, é ainda um reconhecimento tímido e parcial, e baseado em razões puramente contingentes, como as de ordem biológica, por exemplo.)
Quando se fala de "projeção do absoluto no tempo", isto não se refere apenas aos códigos morais, mas sim a toda a Lei revelada (da qual, aliás, o aspecto moral não é senão uma parcela entre muitas). Em todas as tradições espirituais, a revelação sempre foi entendida como uma "descida" de um plano a outro - o absoluto consentindo falar a linguagem do contingente - , o que implica um certo caráter paradoxal da verdade revelada. Do ponto de vista linguístico, Schuon, observa que, em todos os textos sacros, a revelação "estoura" os quadros gramaticais e semânticos de um idioma simplesmente humano, remanejando-os e, de certo modo inaugurando uma "nova" língua, como o Pentateuco inaugura o hebraico e o Alcorão o árabe.
A moral, por isso, sempre apresentou duas faces : uma absoluta, voltada para sua raiz na eternidade; outra relativa, reflexo da eternidade no tempo. O simplismo dos tempos modernos sempre sentiu esse paradoxo como insuportável, tentando liquidá-lo pela supressão de um dos termos, sistematicamente o primeiro deles.
Ora, a moralidade atual não é apenas relativa, como o foram todas as que antecederam, ela é relativista , o que é totalmente diferente. Ela não apenas tem um atributo de relatividade, como todas, mas funda-se na relatividade enquanto tal. As moralidades anteriores limitaram-se a aceitar a relatividade de fato , como fatalidade inevitável da condição humana. A moralidade atual deseja essa relatividade e a proclama como uma superioridade de jure, fazendo seu princípio e sua bandeira.
Nesse sentido, mesmo a palavra "relativista" não é suficiente, pois um relativista de jure é uma negação ativa do absoluto, e portanto a moralidade moderna é essencialmente negativa ou negativista. A questão toda, então, resume-se na pergunta : em que medida uma negação pode servir de fundamento para o que quer que seja?
Claro, pode-se partir de uma negação para fazer um raciocínio filosófico, que procederá então por uma sequência de precisões e distinções, isto é, por negações sucessivas e progressivamente particularizadas. Mas está claro que, na análise lógica como na análise química, a divisão em partículas cada vez menores pode prosseguir indefinidamente, abrindo-se enfim, apenas para os sucessivos abismos do infinitesimal. O correlato moral da partição infinitesimal da matéria é a dúvida : pode-se prosseguir questionando e duvidando indefinidamente, mas ninguém diria que isto serve de base para um código moral, que não existe para criar dúvidas, mas para apoiar a decisão e a ação. O preço moral de uma opção pela análise interminável é a perplexidade paralisante da dúvida eterna.
Por outro lado, a moral negativa, não podendo, por definição, firmar um conteúdo moral positivo, deverá proceder por negações, isto é, por restrições e proibições, que, por sua vez, poderão particularizar-se progressivamente até abarcar detalhes insignificantes, o que é precisamente a tendência do Estado burocrático moderno, o qual se permite regulamentar assuntos que as sociedades tradicionais preferiram deixar a critério de cada qual.
A moralidade leiga, portanto, constituirá apenas um código jurídico de penalidades, e não um código de valores positivos que sirva de base para a decisão e, portanto, para o fortalecimento da personalidade humana.
Daí a associação, comum entre jovens de hoje, entre "moral" e "repressão", pois jamais tendo conhecido um código moral que remeta para o alto, para o absoluto e para o sentido da existência, só podem imaginar a moral como um impedimento e uma agressão.
Claro que a moralidade negativa, procedendo por negações sucessivamente particularizadas, terá de tomar como parâmetro o mais baixo e o mais vil, pois, de um ponto de vista "científico", o crime é uma realidade positiva e a ascensão do homem a uma dimensão transcendente é apenas uma hipótese entre outras, matéria de conjectura e não de decisão prática. A moralidade negativa só pode surgir, assim, numa sociedade que encara o pior como norma, o ruim e o feio como "realidade", e o bem, a verdade e a beleza como vagos ideais inatingíveis, o que implica uma condenação a todo o cosmos.
Contraditória de um ponto de vista lógico, a moral agnóstica é também uma impossibilidade psicológica, por um motivo muito simples. Na tradicional divisão ternária do ser humano - corpo, alma espírito - a moral diz respeito especificamente à alma, ou seja, ao campo das emoções, volições, desejos, etc., das quais nossos atos emanam como simples projeções corporais.
Ninguém terá dúvidas em compreender que nossas emoções dependem de nossas representações simbólicas, isto é, que nosso código simbólico pessoal e grupal firma algumas coisas como desejáveis, outras como detestáveis, temíveis, etc., e que essa "montagem" simbólica, por sua vez, "canaliza" a energia das emoções, produzindo comportamentos.
Toda moral depende, portanto, de uma hierarquia de símbolos. Os objetos de afeto que colocarmos no topo da hierarquia decidirão, em última análise, os comportamentos e reações morais secundários. Por mais ilógica que seja a escolha desse valor supremo, bem como dos símbolos que o corporificam, a estrutura interna da hierarquia simbólica tem uma certa coerência lógica, pois se colocamos, por exemplo, o prazer da vida corporal no topo, e o simbolizamos pela imagem de status, de riqueza, de luxúria, está claro que no degrau seguinte da hierarquia não poderá estar um símbolo de pureza virginal ou de abnegação no sacrifício. Toda a arte tradicional, aliás, baseia-se na realidade e coerência dos símbolos, de modo que a "liberdade" artística atual no sentido de utilizar qualquer símbolo com qualquer sentido pode ter consequências psicológicas imprevisíveis.
Toda a questão da moral resume-se, assim, na pergunta: qual o nosso objeto de maior afeto, e como o simbolizamos? A que dirigimos o maior volume do nosso fluxo de energias psíquicas?
Nem todos os objetos de afeto podem ser representados com a mesma facilidade, e pelos mesmos meios. Se o que mais amamos é apenas uma pessoa, podemos representá-la mediante uma simples recordação, sem nenhum grande esforço. Mas se adotamos um ideal abstrato, por mais vulgar que seja, a "paz social" por exemplo, a representação disso exigirá um esforço maior, e já não poderá ser uma representação meramente subjetiva, pois neste caso o que para nós é a paz para um outro pode ser o símbolo da desordem e da violência, e assim nossa estrutura afetiva estaria permanentemente ameaçada de contestação desde fora. Ou seja, quanto mais universal o objeto de afeto, maior esforço de objetividade estará implicado na sua representação, e maior o afeto que deveremos ter para nos motivar a isso.
Isso significa que a quantidade e qualidade do esforço que fazemos para representar - para conhecer- nosso objeto de afeto já é um sinal da sua universalidade, e portanto da sua qualidade objetiva.
Ora, se o objeto de amor mais alto é então aquele que demanda maior esforço concentrado para o conhecimento da sua universalidade, está claro que a única noção que cumpre essa exigência é a noção de Absoluto, justamente porque o absoluto está acima de todas as representações. Ele constitui o objeto de afeto por excelência, pois seu conhecimento demanda o melhor de nós mesmos, num esforço concentrado que faz com que esse amor tenha o dom de nos tornar melhores, e que portanto seja o único amor que, de certo modo, traz em si sua própria recompensa. Todas as demais formas de amor não são senão reflexos ou símbolos desse único "ser" ao qual jamais poderemos amar tanto quanto lhe cabe por Sua constituição ontológica mesma, ou antes, por sua constituição supra-ontológica. Como esta ascensão progressiva no amor, pela concentração, pela devoção e pelo esforço, constitui o que propriamente se chama ascese e purificação, todas as formas de amor são necessariamente um tanto ascéticas, sob pena de não serem amor de maneira alguma.
Mais ainda, como toda hierarquia afetiva - e portanto moral - emana desse mesmo paradigma, a compreensão de todos os códigos morais temporais e particulares depende da nossa própria proximidade em relação ao Absoluto, ou seja : toda objetividade intelectual perante a diversidade dos códigos morais só se pode estabelecer "desde cima", desde um amor modelar e tão alto que possa abranger sinteticamente todas as outras possibilidades de expressão, e nunca "desde baixo", desde uma simples postura artificial de indiferença acadêmica, que não é mais do que insensibilidade senil.
Em suma : todos os códigos morais só podem ser compreendidos a partir da moralidade absoluta. Neste sentido, os grandes santos e mestres das várias tradições, uma vez tendo alcançado o estado supremo, podem inclusive transcender as formas contingentes da sua própria tradição (seja nos aspectos rituais ou morais), pois o absoluto é o ponto central da coincidentia oppositorum, onde as divergências dogmáticas se reabsorvem numa unidade superior. Como dizem os muçulmanos, "as divergências entre os doutores da religião também são uma dádiva da misericórdia divina".
Entretanto, essa superação das formas só é possível após a absorção integral da tradição a que pertencemos, pois ninguém se tornará um santo sem ter antes sido um fiel. Esta advertência é de resto óbvia, mas talvez seja preciso repeti-la numa época em que ateus e materialistas confessos se permitem pregar a "superação dos formalismos religiosos", como se esta superação pudesse ser outra coisa senão o resultado final da obediência estrita aos mesmos formalismos, e como se o rígido legalismo judaico não tivesse tido de vir antes da pura espiritualidade interior, que não foi trazida pelo Cristo para abolir a Lei, mas para cumpri-la.
Mohyyddin Ibn-Arabi disse que seu coração era "tanto a Kaaba do peregrino quanto a cela do monge cristão ou as tábuas da Torah". Mas disse-o depois de reconhecido como um muçulmano exemplar, como um santo e como a maior figura do Islã depois do profeta Mohammed. Não deixa de ser um exemplo para aqueles "cristãos" que, em nome de um universalismo puramente inventado e abstrato, falam hoje em "superar o Cristianismo em nome do Cristo".
As diferenças entre os códigos morais das várias tradições resolvem-se desde cima, na perspectiva universal daquele que se tornou um "amigo de Deus" e que pode restituir a cada variante sua parcela na verdade total, e dissolvem-se desde baixo, no indiferentismo relativista da "imparcialidade científica" ou no universalismo abstrato do pseudo-espiritualismo que despreza a autenticidade de cada religião e cada código em particular. Por isto de diz que nada é tão parecido com a verdade quanto um erro, e que Satã é o imitador, o macaco de Deus.
Resta ainda a hipótese de, embalados por algum dos sentimentalismos contemporâneos, elevarmos algum ideal parcial - a paz social, a liberdade, a felicidade, o amor humano, ou seja lá o que for - à condição de absoluto, e o cultuarmos em seguida. Mas isto é a definição mesma da idolatria, e não pode ter sido para isto que Moisés quebrou o bezerro de ouro, que Mohammed invadiu a Kaaba para quebrar os ídolos, ou que o Cristo, num de seus mais sublimes paradoxos, respondeu ao suplicante: "Por que me chamas bom? Só Deus é bom".
Esse texto trata-se do capítulo 7 do livro Fronteiras da Tradição (Carvalho, Olavo. Nova Stella, 1986).
Índice do livro Fronteiras da Tradição
1. Fronteiras da Tradição
2. A Tradição, as Ciências Tradicionais e o Islam
3. Seitas e Religiões
4. O Valor do Intelecto
5. A Decadência e o Fim, segundo as Doutrinas Hindus
6. Considerações
7. Moralidade sem Deus?
Notas
 A Revista Aventuras na História de fevereiro/2009 aborda em sua matéria de capa a polêmica relação do Papa Pio XII com o Nazismo. Sem dúvida, trata-se de um tema delicado e, via de regra, é - lamentavelmente - tratado de forma parcial pelo jornalismo investigatório. A condenação ao Papa pela sua “omissão” e até colaboração para com os horrores do Nazismo é a prática comum.
A Revista Aventuras na História de fevereiro/2009 aborda em sua matéria de capa a polêmica relação do Papa Pio XII com o Nazismo. Sem dúvida, trata-se de um tema delicado e, via de regra, é - lamentavelmente - tratado de forma parcial pelo jornalismo investigatório. A condenação ao Papa pela sua “omissão” e até colaboração para com os horrores do Nazismo é a prática comum. m geral, promoveram ampla ajuda aos judeus abrigando-os em suas casas. Além disso, segundo alguns autores, Pio XII evitou a condenação aberta ao nazismo para não contrair um mau maior, como um conflito entre a Alemanha e o Vaticano. Tal posição torna-se ainda mais consistente se não esquecermos que Hitler havia prometido sequestrar Pio XII. A situação naquelas circunstâncias era duma bomba atômica pairando no ar. Qualquer movimento poderia potencializar a tragédia. Ainda assim, por baixo dos panos, o Papa e o Vaticano, bem como a comunidade católica, fizeram a sua parte em manter abrigo para dezenas de milhares de judeus, coforme defende o rabino.
m geral, promoveram ampla ajuda aos judeus abrigando-os em suas casas. Além disso, segundo alguns autores, Pio XII evitou a condenação aberta ao nazismo para não contrair um mau maior, como um conflito entre a Alemanha e o Vaticano. Tal posição torna-se ainda mais consistente se não esquecermos que Hitler havia prometido sequestrar Pio XII. A situação naquelas circunstâncias era duma bomba atômica pairando no ar. Qualquer movimento poderia potencializar a tragédia. Ainda assim, por baixo dos panos, o Papa e o Vaticano, bem como a comunidade católica, fizeram a sua parte em manter abrigo para dezenas de milhares de judeus, coforme defende o rabino.